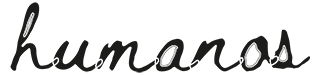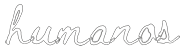Arevista Humanos tem o prazer de apresentar uma entrevista exclusiva com Tim Ingold, renomado antropólogo e professor emérito de Antropologia Social na Universidade de Aberdeen.
Ao longo desta conversa, Ingold reflete sobre questões fundamentais para entender a nossa era, incluindo a crítica ao conceito de “Antropoceno” e as novas abordagens para o estudo das dinâmicas humanas e das redes invisíveis que interligam todos os seres. Ele compartilha suas visões sobre como o pensamento antropológico pode se entrelaçar com a arte, a filosofia e até mesmo com a arquitetura, destacando a importância de um olhar holístico que não divide, mas integra saberes e práticas.
Neste diálogo, exploramos também as influências filosóficas de Bergson e Deleuze, suas críticas ao estruturalismo e sua visão de uma antropologia mais aberta e conectada com os indivíduos, desafiando as fronteiras disciplinares e acadêmicas. A entrevista vai ao encontro da proposta central desta edição, que é refletir sobre as redes invisíveis e as complexas teias da vida, entendidas por Ingold como os fios que unem todas as dimensões da existência humana.
Por meio de seu pensamento contemporâneo, somos convidados a uma verdadeira reflexão sobre o invisível que nos conecta a tudo o que nos cerca.
BIOGRAFIA
Tim Ingold é um renomado antropólogo com mais de 25 anos de carreira, inicialmente na Universidade de Helsinque (Finlândia), depois na Universidade de Manchester (Reino Unido) e, posteriormente, na Universidade de Aberdeen (Escócia), onde fundou o Departamento de Antropologia.
Ele é amplamente conhecido por seus estudos sobre o norte circumpolar, incluindo seu trabalho de campo entre os Saami e os finlandeses na Lapônia, além de suas investigações sobre ecologia humana, tecnologia e a relação entre seres humanos e animais. Ele propõe uma abordagem relacional que substitui os modelos tradicionais de transmissão genética e cultural, explorando como as habilidades de percepção e ação se desenvolvem em contextos sociais e ambientais.
Além de suas pesquisas, Ingold tem sido um educador influente e escreveu sobre a interface entre antropologia, arqueologia, arte e arquitetura. Após sua aposentadoria em 2018, continua a escrever e pesquisar como acadêmico independente.
O tema do Antropoceno foi uma das principais questões do seu livro mais recente, A Ascensão e Queda da Geração Atual. Em 2024, após uma discussão de 15 anos, um grupo de cientistas concluiu que o Antropoceno não existe, porque, para eles, a ação humana na Terra não é um critério geológico para nomear uma nova era geológica. Como você vê essa conclusão?
O conceito de Antropoceno é um lembrete útil de que a história humana sempre esteve ligada à história da Terra. E isso ajudou a iniciar conversas muito necessárias entre geocientistas e estudiosos das ciências sociais e humanas. E como um recurso puramente retórico, fez muito para trazer a policrise ambiental atual – com efeitos que vão desde o superaquecimento climático até a extinção em massa, a poluição plástica, a contaminação radioativa e as doenças pandêmicas – para o centro da atenção pública.
“Essa é a mesma ciência que descarta os modos de conhecer e ser dos povos indígenas, ou de qualquer outra pessoa, como mera ‘crença’, fundada na ignorância e não nos fatos.”
Além disso, não sou um entusiasta do termo. Isso não significa que eu apoie a tendência atual, sobretudo entre os estudiosos das humanidades ambientais, de inventar outras denominações como ‘Capitaloceno’, ‘Plantationoceno’, ‘Tecnoceno’ e assim por diante. Eu entendo que o ponto é fazer com que o fardo da responsabilidade pela crise não recaia sobre a humanidade em geral, mas sobre os regimes extrativistas lançados em prol dos poderosos, sobretudo no norte global, à custa de tudo e todos. Mas para os estudiosos jogarem esse jogo de nomes concorrentes, apostando suas reputações, cujo nome vence – e tudo isso enquanto o planeta queima – me parece o cúmulo da arrogância acadêmica.
No entanto, a meu ver, os esforços dos cientistas para determinar, em bases puramente objetivas, se existe ou não o Antropoceno não são menos absurdos. O antropólogo Eric Wolf certa vez apontou que utilizar o conceito de sociedade é apresentar uma alegação, não declarar um fato. Poderíamos dizer o mesmo do conceito de natureza, e de fato do Antropoceno. Que um comitê de cientistas não consiga distinguir entre alegação e fato diz muito sobre a bolha de presunção em que a Big Science continua a flutuar. Tendo se colocado em uma plataforma acima e além do mundo sobre o qual professam falar, de todas as pessoas comuns e outras criaturas que vivem nele, da própria história. Eles se apossam de uma autoridade, negada a todos os outros, para pronunciar sobre o que é e o que não é certo. Portanto, se decidem que a sociedade, ou a natureza, ou o Antropoceno existem ou não existem, então é isso – fim da história. Porque somente eles são objetivos, enquanto todos os outros estão mergulhados em vários camadas de subjetividade. Essa é a mesma ciência que descarta os modos de conhecer e ser dos povos indígenas, ou de qualquer outra pessoa, como mera ‘crença’, fundada na ignorância e não nos fatos. É a mesma ciência que se recusa, categoricamente, a aprender ou mesmo a se envolver com epistemologias alternativas à sua. E é claro que é a mesma ciência que, tanto apoiada por quanto em apoio aos governos e corporações que a mantiveram validada, que são sobrepostos uns sobre os outros à medida que cada um dá lugar ao próximo.
“…o verdadeiro problema com o ‘Antropoceno’ reside no próprio ‘ceno’, e não no que quer que decidamos colocar antes dele.”
Na minha opinião, o verdadeiro problema com o ‘Antropoceno’ reside no próprio ‘-ceno’, e não no que quer que decidamos colocar antes dele. Isso é indicativo de uma certa maneira de pensar que está, creio eu, no cerne de muitos de nossos problemas. É a tendência de pensar na história, seja da humanidade ou da Terra, como uma série de estágios, que são sobrepostos uns aos outros à medida que cada um cede lugar ao próximo. Nessa forma de pensar em estágios, sempre nos parece, no presente, que estamos prestes a abrir o último envelope. É uma velha história, e o mito do Antropoceno é apenas a versão mais recente dela. Se é diferente, é apenas nisto: enquanto antes pensávamos que poderíamos estar virando a página das gerações passadas, agora pensamos que estamos virando a página de toda a história humana. Com a transição do Holoceno para o Antropoceno, nos dizem que a história humana acabou. Estamos entrando em uma nova era pós-humana e pós-histórica. Meu livro sobre gerações, ao qual você se referiu, oferece uma crítica extensa dessa forma de pensar. Argumento no livro que, em vez de imaginar estágios, empilhados uns sobre os outros, deveríamos pensar em termos de processos simultâneos, que se envolvem uns nos outros. Em vez da metáfora da pilha, faríamos melhor em recorrer à metáfora da corda. A diferença é que, ao amontoar, continuamos substituindo mundos antigos por novos. Mas com a corda, continuamos a dar vida nova a velhas maneiras. Esta última, creio eu, nos mostra um modelo melhor para a sustentabilidade.
A influência da arte em seu trabalho é notável, desde Paul Klee até artistas contemporâneos como Tehching Hsieh. No entanto, a antropologia não se limita mais a analisar ou comentar a “etnografia da arte”, e os antropólogos estão sendo chamados por artistas para comentar seus trabalhos, como vemos em suas Correspondências. Existe uma nova relação emergindo entre antropologia e arte?”
Eu acredito que sim – ou, pelo menos, espero que sim. Há alguns anos, em 2018, o Royal Anthropological Institute organizou uma importante conferência internacional sobre ‘Arte, Materialidade e Representação’ no British Museum, em Londres. Eu estava lá e assisti a muitos dos painéis. O que me impressionou foi que a conferência estava dividida igualmente ao meio, entre aqueles que aderiam a um modelo bastante tradicional de antropologia da arte, enraizado em estudos museológicos e focado na descrição etnográfica e análise de ‘objetos de arte’ representativos, e aqueles interessados em explorar como as práticas emergentes na arte contemporânea poderiam abrir novas maneiras mais experimentais e possivelmente performativas de fazer antropologia.

“Educação, não etnografia, deveria ser a vocação principal do antropólogo.”
Naturalmente, me vi em uma grande sintonia com o último grupo.
Em meu próprio discurso na conferência, defendi uma convergência de arte e antropologia, a ponto de se tornarem quase indistinguíveis. Mas para chegar a esse ponto, eu disse que seria necessário mudar a perspectiva em ambas as disciplinas. Na antropologia, isso significaria romper completamente com a etnografia. Significaria aceitar a antropologia como um empreendimento especulativo e experimental encarregado de investigar, junto com aqueles entre os quais estudamos, as condições e possibilidades da vida humana. E na arte, significaria afastar-se da ideia de arte como um meio de autoexpressão subjetiva, creditada ao gênio individual de seu criador, em direção ao que chamo de ‘sintonia’ – uma forma de seguir junto com os outros e com o mundo, respondendo a eles à medida que avança e extraindo sua inspiração e energia criativa da mesma fonte.
Como você vê os desenvolvimentos de sua crítica ao estruturalismo no ensino acadêmico de antropologia hoje?
Em primeiro lugar, o estruturalismo nunca teria surgido fora de um ambiente acadêmico que já era intensamente hierárquico. Não é à toa que se enraizou primeiro na França! A premissa é que apenas aqueles que possuíam ferramentas de poder teórico do tipo mais abstrato e exaltado poderiam revelar as estruturas que mantêm o resto de nós sob seu controle sem que sequer tenhamos consciência delas. Há uma longa tradição, na academia francesa, de intimidar os alunos ensinando em uma linguagem tão arcana e tão incompreensível que ninguém consegue entender. Eu costumava chamar isso, meio que brincando, de ‘teoria francesa incompreensível’, ou TFI para abreviar. Na Grã-Bretanha, receio que tendemos a ir ao extremo oposto. Há tanta desconfiança da ‘teoria pura’ que ninguém quer tocá-la, a menos que esteja enterrada profundamente em uma espessa camada de etnografia.
Mas a antropologia, para mim, é fundamentalmente um esforço filosófico que aborda as grandes questões da vida e, nesse sentido, teórica do início ao fim. O que a torna diferente – e a razão pela qual podemos fazer melhor filosofia do que os filósofos – é que nós pensamos o mundo na prática. Deixamos o mundo participar de nossas deliberações. E isso inclui outras pessoas: não apenas as pessoas que encontramos em nosso trabalho de campo, mas também, e mais importante, nossos alunos. Um dos grandes escândalos da antropologia contemporânea é que, embora agora reconheçamos as pessoas entre as quais estudamos no campo como colaboradores em nossa pesquisa, ainda tratamos os alunos como meros recipientes do ‘conhecimento antropológico’ transmitido do alto. Eles estão proibidos de desempenhar qualquer papel ativo em sua geração. Precisamos mudar isso. E uma das maneiras de fazê-lo é pensar na antropologia, em primeiro lugar, como uma forma de educação em si. Educação, não etnografia, deveria ser a vocação principal do antropólogo. Mas isso é pensar na educação, também, como uma conversa contínua que não apenas nos coloca em diálogo com o mundo, mas também é transformadora para todos os envolvidos – não apenas os alunos, mas também seus professores.
Ainda estamos longe disso. No entanto, agora que a colonialidade inerente das hierarquias acadêmicas tradicionais está sendo colocada sob os holofotes, os debates e as discussões resultantes sobre como alcançar a decolonialidade na sala de aula estão finalmente apontando em uma direção mais esperançosa.
Aqui no Brasil, seu trabalho é bem recebido em departamentos de arquitetura. Como isso ocorre em outros lugares do mundo e como o Brasil é único nesse aspecto?
Eu fico maravilhado com a recepção positiva do meu trabalho em departamentos de arquitetura ao redor do mundo. Isso me pegou completamente de surpresa. Afinal, não tenho formação acadêmica em arquitetura e só cheguei à disciplina mais ou menos por acidente, e pela ‘porta dos fundos’, como resultado do meu interesse por linhas. Quando comecei a escrever sobre linhas, as pessoas me disseram que isso era arquitetura! Então pensei que seria melhor descobrir mais sobre isso, o que fiz dando seminários e palestras, participando de conferências e assim por diante. De fato, devo dizer que meu trabalho tem sido muito mais calorosamente recebido por arquitetos do que por meus próprios colegas na antropologia. Isso me fez pensar se eu realmente sou um antropólogo, ou algo mais.
“…a antropologia é realmente filosofia, mas que é flosofia com as pessoas dentro…”
Não acho que o Brasil seja diferente. Gosto do Brasil porque há muita efervescência intelectual no país – muito mais do que na Grã-Bretanha, Europa ou América do Norte, que em comparação, parecem bastante exaustos. Parte da razão para isso, eu acho, é que é um caldeirão de ideias, por exemplo, da França, Alemanha, EUA e Reino Unido. Acho, também, que os povos indígenas do Brasil têm um impacto na vida intelectual maior do que se encontra na maioria dos outros países.

Sabemos da influência da filosofia de Henri Bergson em seu trabalho, mas também de Deleuze e Guattari. Você propôs uma substituição do empréstimo da biologia no conceito de rizoma feito pelos autores franceses com o micélio fúngico, que é, para nós, algo frutífero e consistente. Falando de filosofia em um sentido mais amplo, você também critica consistentemente a separação entre ontologia e epistemologia. Em geral, como se desenvolve a relação entre antropologia e filosofia e como ela pode ajudar na crítica da disciplinaridade?
Eu li Bergson há muito tempo, no início dos anos 1980, quando seu pensamento estava profundamente fora de moda. Eu me apaixonei completamente por sua filosofia. Parecia abranger tudo o que eu queria dizer, e mais. Foi provavelmente apenas por causa dessa influência inicial de Bergson, e da maneira como moldou meu pensamento, que eu pude posteriormente encontrar algum sentido nos escritos de Deleuze e Guattari. Eles não teriam significado nada para mim se não fosse por essa leitura. Na verdade, minha experiência com filósofos em geral é que só consigo entender o que eles dizem quando minhas próprias reflexões já me levaram a pensar da mesma forma. Só então sinto que possuo a chave para decifrar seu trabalho. E tendo decifrado, possivelmente me levaria além de onde eu teria chegado sozinho.
Houve algumas tentativas bem-intencionadas nos últimos anos de reconectar antropologia e filosofia, até mesmo de dar nova vida à velha ideia, herdada de Kant, de uma antropologia filosófica. Mas o problema com a maioria das disciplinas acadêmicas, assim como a filosofia e antropologia, é que elas tendem a se fechar em si mesmas, transformando cada uma no estudo das condições de sua própria investigação. O problema, em suma, não reside nas disciplinas como tal, mas em sua profissionalização. Assim, há antropologia para antropólogos e filosofia para filósofos.
“Habitar tal mundo significa aprender a viver juntos em diferença.”
Interdisciplinaristas têm tentado bravamente construir pontes entre as duas, mas acho tudo um pouco tedioso e marcado pela mesma autorreferencialidade que afeta tanto a escrita acadêmica. Com Deleuze e Guattari, não estou tão interessado em construir pontes quanto em navegar pelas águas que fluem por baixo. Se a antropologia está em uma margem e a filosofia na outra, então estou em uma espécie de terra de ninguém entre as duas. Há muita turbulência, e é impossível manter qualquer posição fixa por algum período de tempo. Mas é muito mais emocionante do que ficar nas margens e gritar para o outro lado. E não há outro lugar onde eu preferiria estar!
Tenho argumentado muitas vezes que a antropologia é realmente filosofia, mas que é filosofia com as pessoas dentro – pressupondo que a filosofia para filósofos prefere deixar as pessoas de fora, deferindo em vez disso a seus textos canônicos. Literalmente, no entanto, a filosofia significa ‘amor ao aprendizado’, e estou feliz em fazer parte disso! Mas isso a torna, essencialmente, um estudo amador, não profissional. É estudar por amor, não para construir uma carreira. Em outras palavras, é conhecer como uma forma de ser – que é onde a união de ontologia e epistemologia entra em jogo. E isso, eu acho, deveria ser o ponto de partida para qualquer crítica da disciplinaridade.
Você é notavelmente um crítico da noção de ‘multinaturalismo’ na antropologia. No entanto, parece persistir no imaginário, como visto nos ‘multiversos’ presentes em franquias de filmes e até mesmo na mudança de nome da empresa de Facebook para ‘Meta’, aludindo ao ‘metaverso’. Como sua crítica ao multinaturalismo pode ser expandida para nos ajudar a entender a imaginação contemporânea?
O multinaturalismo é uma inversão inteligente do multiculturalismo clássico. Em vez de fundar a diversidade cultural em uma base universal de natureza, os multinaturalistas fundam suas muitas naturezas em uma ideia abrangente de alma ou espírito. Mas o fato de ter dado tão certo na mídia contemporânea sugere que tem mais em comum com a ontologia do que parece. O que eles compartilham é uma negligência da ontogênese, o devir das coisas. Embora eu seja contra a ideia de mudanças repentinas na academia – na maior parte elas equivalem a torneios de vaidade acadêmica – tenho argumentado que, se devemos ter uma mudança, então deve ser ontogenética em vez de ontológica. A diferença é esta: a ontologia nos dá múltiplos mundos de ser, cada um envolvido em si mesmo. Levado ao seu extremo lógico, você acaba com tantos mundos quanto existem seres e coisas, cada um colapsado em si mesmo. Com múltiplas ontogenias, no entanto, cada ser ou coisa é aberto, sujeito a crescimento e movimento, surgindo ao longo de seu próprio caminho particular dentro de um mundo de diferenciação, no entanto, inexaurível. Habitar tal mundo significa aprender a viver juntos em diferença. E eu acho que isso oferece uma alternativa melhor para os tempos que virão do que as prognosticações contemporâneas na mídia, que oferecem apenas a fragmentação e a liquidação final de toda diferença em uma espécie de meta-sopa. Esse é o tipo de futuro prometido pela Inteligência Artificial. É um futuro projetado para encher os bolsos das grandes corporações de tecnologia, mas não é um futuro que nenhum de nós gostaria. Devemos nos levantar contra isso!
OBRAS DO AUTOR
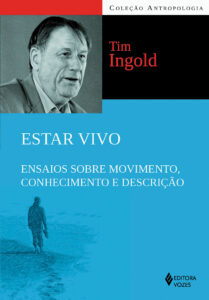
ESTAR VIVO
Ensaios Sobre Movimento,
Conhecimento e Descrição
Título Original:
BEING ALIVE
Essays on Movement,
Knowledge and Description
Tradução: FÁBIO CREDER
Construído sobre os alicerces da sua obra clássica, The Perception of the Environment [A percepção do ambiente], Tim Ingold se propõe aqui a recolocar a vida no lugar ao qual ela deveria pertencer, o coração da preocupação antropológica. A partir da ideia da vida como um processo de peregrinação, Estar Vivo – ensaios sobre movimento, conhecimento e descrição apresenta uma compreensão radicalmente nova do movimento, do conhecimento e da descrição como dimensões não apenas do estar no mundo, mas do estar vivo para o que nele acontece.
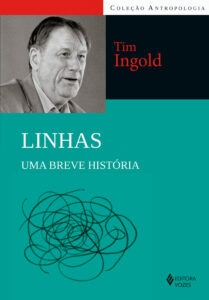
LINHAS
Uma Breve História
Título Original:
LINES: A BRIEF HISTORY
Tradução: LUCAS BERNARDES
O que andar, tecer, observar, contar histórias, cantar, desenhar e escrever têm em comum? A resposta é que todos eles procedem ao longo de linhas. Neste livro Tim Ingold imagina um mundo no qual tudo consiste em linhas entretecidas e interconectadas, e lança os alicerces para uma disciplina completamente nova: a Arqueologia Antropológica das Linhas.
O argumento de Ingold nos leva pela música da Grécia Antiga e do Japão contemporâneo, pelos labirintos siberianos e pelas estradas romanas, pelos ideogramas chineses e pelo alfabeto impresso, trançando um caminho entre a Antiguidade e o presente. Baseando-se em uma multidão de disciplinas, incluindo Arqueologia, Estudos Clássicos, História da Arte, Linguística, Psicologia, Musicologia, Filosofia e muitas outras, e incluindo diversas ilustrações, este livro é uma jornada intelectual estimulante que mudará a forma que vemos o mundo e como caminhamos por ele.
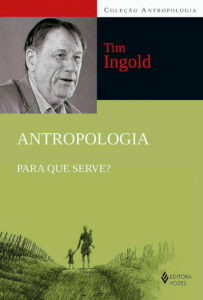
ANTROPOLOGIA
Para Que Seve?
Título Original:
ANTHROPOLOGY
Why It Matters
Tradução: BEATRIZ SILVEIRA CASTRO
FILGUEIRAS
A humanidade está em uma encruzilhada. Defrontamos a desigualdade crescente, a escalada da violência política, fundamentalismos beligerantes e uma crise ambiental de proporções planetárias. Como podemos construir, para as futuras gerações, um mundo onde haja lugar para todos? Em tal mundo, quais são as possibilidades de vida humana coletiva? Essas são questões urgentes e nenhuma disciplina está melhor situada para enfrentá-las do que a Antropologia. Ela o faz apoiando-se na sabedoria e na experiência dos povos de todo o mundo, não importa sua origem e sua vocação. Neste livro passional, Tim Ingold narra como um campo de estudo, antes comprometido com os ideais do progresso, colapsou em meio às ruínas da guerra e do colonialismo para renascer como uma disciplina da esperança, destinada a assumir o protagonismo no debate das questões intelectuais, éticas e políticas mais urgentes do nosso tempo. Ele demonstra para que a antropologia nos serve, a todos nós.